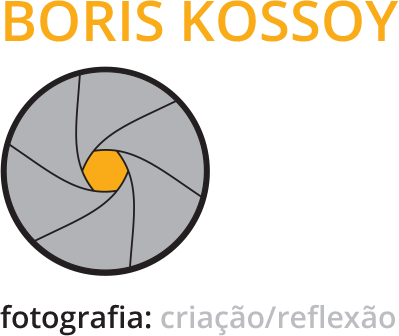Entrevista com Boris Kossoy
Bernardo Buarque de Hollanda e Daniela AlfonsiA ideia de uma entrevista com Boris Kossoy surgiu no final de 2017. Boris fora convidado pelo Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC) para participar no Rio de Janeiro, em 27 de novembro daquele ano, do Seminário Dicionários histórico-biográficos: desafios metodológicos e novas tecnologias. O convite se devera à expertise do autor com o Dicionário histórico-fotográfico brasileiro: fotógrafos e ofício da fotografia no Brasil (1833-1910), lançado em 2002 pela editora do Instituto Moreira Salles. Essa publicação, por sua vez, remontava a uma tese de livre-docência defendida na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP), em 2000, como resultado autoral de conversão das pesquisas sobre a imagem fotográfica, iniciadas nos anos 1970, na sistemática de verbetes para um dicionário, desenvolvido ao longo da década de 1990.
A palestra de Kossoy nos deixou atraídos não só por sua didática expositiva como também pelas inúmeras afinidades temáticas despertadas por seu trabalho institucional e por sua trajetória profissional. Afora o aporte teórico na relação entre história e iconografia, caro à reflexão historiográfica, interessamo-nos por sua experiência de gestão à frente do Museu da Imagem e do Som de São Paulo (MIS-SP), no início dos anos 1980. Em particular, nosso interesse se relacionou mais diretamente ao programa de História Oral, criado pelo professor durante o período em que dirigiu o MIS-SP (de outubro de 1980 a março de 1983).
A importância e a riqueza dos depoimentos colhidos junto a inúmeras personalidades da área cultural, artística e acadêmica brasileira podem ser aferidas no site da instituição. Nesse sentido, procuramos na entrevista a seguir compreender em maior profundidade as circunstâncias políticas de sua atuação naquele período de reabertura democrática no Brasil, em que parte da “memória nacional” voltava a ser falada e documentada.
Nascido em São Paulo, no ano de 1941, Boris Kossoy é descendente de imigrantes que chegaram ao Brasil nos anos de 1920, seu pai de Odessa (na época, Rússia), e sua mãe de Cracóvia, Polônia, e que no Brasil se conheceram. Formou-se em arquitetura nos anos 1960 e atuou como fotógrafo profissional de inúmeras agências, estúdios e revistas, paralelamente a uma carreira autoral.
Na Academia, a partir dos anos 1970, desenvolveu trabalho reflexivo sobre o estatuto histórico da fotografia nas Ciências Sociais, obteve os títulos de Mestre e Doutor pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Iniciou carreira no magistério na Faculdade de Comunicação Social Anhembi e, em seguida, no curso de especialização em Museologia. Desde finais dos anos 1980, passou a ministrar cursos de pós-graduação na qualidade de Professor Convidado, inicialmente no Departamento de História da USP e, a seguir, na Escola de Comunicações e Artes da USP. A partir de então, seu vínculo foi definitivo com essa universidade: em 2000, defendeu tese de livre-docência e, em 2002, concorreu para o cargo de professor titular da Universidade de São Paulo.
É ensaísta, curador e autor de 17 livros (dois em coautoria com a historiadora Maria Luiza Tucci Carneiro), alguns deles traduzidos e publicados no exterior. Teve muitas de suas fotografias expostas e adquiridas por instituições internacionais de ponta, como o MoMA, o Metropolitan Museum of Art (ambos em Nova Iorque), a Biblioteca Nacional da França, o Museu de Arte de São Paulo, o Museu de Arte Contemporânea da USP, Centro de la Imagen, do México, entre outras instituições públicas e privadas no Brasil e no exterior.
A entrevista a seguir foi filmada por João Paulo Pugin Souza, na cidade de São Paulo, na residência do entrevistado, bairro do Brooklin, numa manhã de segunda-feira.
Muito obrigado, professor Boris, por nos receber aqui no seu estúdio. Nós gostaríamos de começar com uma breve síntese da sua trajetória, das suas origens familiares e da sua formação acadêmica.
Eu vou falando livremente, meio “desacademicamente”, mas tentando dar uma consistência nessa fala. Sim, a imagem faz parte da minha vida desde muito pequeno, desde a minha primeira infância, os álbuns de figurinhas e os gibis me divertiam. Durante a minha adolescência, a minha ligação com a imagem através do cinema, fotografia, história em quadrinhos, foi parte fundamental da minha formação, embora todo mundo falasse que era pecado ler história em quadrinhos… Eu não vi nada na Bíblia que dissesse que era pecado, mas diziam que era. “Imagina! A pessoa fica deformada e tal”. Eu desenhava bem, então todas essas formas de expressão foram se interligando. Um caminho natural para mim foi a arquitetura. Minha primeira formação é de arquiteto — me formei em arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie em 1965.
Evidentemente, você viveu essa já ambiência do Brasil sob a ditadura militar.
Sim, o começo do começo. Aquela efervescência toda, embora meu foco não fosse político naquele momento. Isso vai acontecer alguns anos depois, não tanto pela arquitetura, mas sim pela fotografia. Quatro ou cinco anos depois que eu saí da faculdade, em 1969 ou 1970, eu já estava fazendo coisas completamente diferentes e pensando mesmo diferente do que eu pensava quando tinha 19 anos ou 20 anos, quando entrei na faculdade. Isso em relação a questões existenciais, políticas, ideológicas etc.
Então, a imagem sempre fez parte. A fotografia caminhava paralelamente à Faculdade de Arquitetura. Cheguei a trabalhar alguns anos em projetos convencionais, projetando residências, edifícios etc., mas a fotografia sempre flertando comigo, sempre me cutucando. Bom, num determinado momento, em 1968 e 1969, aquilo tudo que começou a acontecer na Europa e no mundo também foi muito picante e muito interessante, e eu via na imagem uma forma de compreender esse mundo, de representar esse mundo, de participar desse mundo.
Meu ex-escritório de arquitetura virou meu estúdio fotográfico, na rua Marquês de Itu, 266, 7º, conjunto 72, quase esquina com a Rego Freitas. Eu adorava aquele lugar, era o miolo da convivência dos arquitetos da cidade de São Paulo, na Vila Buarque. Depois, eu continuei naquele bairro — muito querido para mim até hoje –, algumas quadras além, na Escola de Sociologia e Política. Uma coincidência curiosa, na minha vida acontecem muitas coincidências assim.
Uma pergunta específica sobre essa época. No portfólio do seu site, você escolhe para falar de você umas fotos tiradas na periferia de São Paulo, entre os anos 1950 e 1960. O que te leva a ir para a periferia paulistana nesse período?
Pena que são tão poucas. Eu me encantei com aquela periferia de São Paulo, que tinha uma outra conotação que a de hoje e que me levava, muitas vezes, a passear e andar por lá. Numa dessas andanças, vi uma cena que me tocou profundamente: era uma kombi de uma funerária, diante de um casebre, onde está escrito lá: “Parteira”. Você talvez lembre dessa foto. Me perguntaram: “Foi uma montagem?”. Foi montagem nada. Eu passei e vi essa cena. E quem viu essa cena comigo foi minha primeira esposa, a Sarita. Ela falou: “Você viu?”. Eu falei: “Vi”. Poxa vida! Mas entre ver, tomar e descer do carro para fazer a foto foi chocante, porque tem toda uma narrativa naquela imagem. Essa foto acabou sendo muito divulgada pela imprensa como promoção da programação jornalística da Rádio Jovem Pan.
Essa “narrativa” da fotografia, que se reduz a uma imagem, é a grande diferenciação do cinema, onde você tem a narrativa sobre determinado tema ao longo do tempo, recriada e construída no tempo da sucessão dos fotogramas segundo um roteiro. Aqui, na fotografia, você tem que ter toda a história numa imagem, cujos elementos para essa história estão no extraquadro, além da representação, e que podemos ou não desvendar; e o tempo real, que precisamos imaginar. Esse desafio, essas questões teóricas começavam a mexer com a minha cabeça, essa síntese do fato, da cena, numa única fotografia. Essas questões de fundamento não se discutiam aqui, e mesmo lá fora, ainda eram embrionários.
Você lembra o bairro onde foi feita a foto?
Zona norte, para o lado de Itaberaba, Morro de São Bento, região norte. Não vou naquela região há mais de 50 anos, pelo menos. Em São Paulo, você quase não sai da região em que vive e trabalha. Cada região é uma cidade, um cenário gigantesco, com seus segredos próprios. Tenho outras fotos de cenários semelhantes, lembro que uma delas me vem à cabeça justamente por essa questão urbana. Eu não gosto de falar sobre uma foto. A fotografia, a gente tem que ver. Mas, enfim, me refiro a uma fotografia em especial em que temos um grupo de favelas no primeiro plano; no médio plano, as torres de uma igreja; e ao fundo, a cidade; uma paisagem urbana que não existe mais hoje. O professor Pietro Maria Bardi, quando viu essa foto, creio que foi em 1969: “Boris, eu quero esta”. E a utilizou num livro de história da arquitetura que saiu na Itália (Bardi, 1971, p. 24). Ah! Eu fiquei maravilhado quando ele escolheu aquela foto! O Bardi foi um grande protetor meu, um grande conselheiro, tenho as melhores recordações dele.
E aí eu cheguei a fazer um pouco de freela para a revista Claudia e a revista QuatroRodas, da Abril; para o Jornal da Tarde e para a TV Record, paralelamente ao meu trabalho de estúdio, porque eu era fascinado, e ainda sou, pelo retrato. O retrato fotográfico, para mim, é um mistério, aquela cumplicidade de fotógrafo. Estou falando do retrato, não estou falando do selfie. Estou falando do retrato clássico, com luz Rembrandt e tal. Aquela troca de olhares, sem falar muita coisa, diz muito, é uma interação fascinante. E aquele momento era o momento — estou falando de 1968, dos pôsteres, do psicodélico, da luz negra, da contracultura, do baseado etc. e tal. Nós estamos falando desses 50 anos atrás, em que você realmente vivia uma efervescência que era de carne e osso e sangue e lágrimas e de sensações fantásticas, e que depois foi se diluindo e homogeneizando, e deu no que deu. Naqueles anos, comecei a me dedicar mais sistematicamente ao meu trabalho pessoal, autoral, como mencionei antes.
Esse interesse pela imagem está na raiz do meu interesse pela iconografia histórica. E eu sempre adorei história, desde o tempo da disciplina “História da Arquitetura”, que cursei na faculdade. Imaginava os gregos vivendo naquelas edificações clássicas, entre colunas jônicas, dóricas. Eu sempre imaginava o passado, como uma sucessão infinita de cenários onde se sucediam os fatos, dos mais comuns, cotidianos, aos considerados heroicos, que se consagram pela história oficial; a minha chegada na história assim se fez interligada com os lugares onde moravam os personagens, onde viviam. Não o passado abstrato. Creio que a arquitetura foi importante para eu ser um historiador um pouco melhor. Era importante imaginar mais precisamente o espaço, não só o tempo. Ler sobre os lugares, ver e estudar os lugares amplia a nossa percepção sobre a cena passada. E a iconografia estava me fascinando… Entre 1972 e 1975, escrevia matérias mensais sobre história da fotografia para o Suplemento Literário de O Estado de São Paulo.
Eu comecei a minha pós. Passou muito tempo desde a minha formação. Eu já tinha um nome razoavelmente conhecido como fotógrafo. Em 1970, eu tive três fotos minhas adquiri-das pelo MoMA. Eu estava nas nuvens. Pouco depois, tive obras no Metropolitan Museum de Nova Iorque, no Smithsonian de Washington, na Bibliothèque Nationale de Paris. Mas isso não era suficiente para mim, o importante era mais conhecimento de raízes… A história me fascinava. Eu pensava: “Poxa! Mas dá para a gente recuperar a história através da imagem?”. Sabia que era necessário estudar e aprofundar questões filosóficas sobre o papel da imagem na história, sentia que um mundo de conhecimentos e experiência ainda faltava na minha formação.
Comecei a pensar coisas assim e iniciei a minha pós na PUC-SP, na área de História, em 1977, num momento horrível, quando a universidade foi invadida por aquele Erasmo Dias. Eu me lembro que naquela mesma manhã eu tive aula e, à tarde, vim a saber do que acontecia. No nosso curso, vinham falar professores como Florestan Fernandes, Octavio Ianni, Carlos Guilherme Motta, entre outros. Fiz amizade com o Prof. Ianni e, muitos anos depois, ele escreveria o prefácio da segunda edição do livro Olhar europeu: o negro na iconografia brasileira (edição da Edusp), escrito em coautoria com a historiadora e também professora da USP, Maria Luiza Tucci Carneiro, que seria minha companheira de vida. O livro foi publicado em 1984 e uma segunda edição saiu nos anos 1990. Logo depois, Ianni faleceu.
Eu conversava muito com o Florestan também. Eu falava: “Você acredita na iconografia?” Ele falava: “Xi! Iconografia?” “É, iconografia e história.” Grandes papos. Bom, lembro que a minha professora lá na PUC era a historiadora Estefânia Fraga, e eu formava, com mais três colegas, um grupo muito entrosado, pesquisávamos com afinco os temas dos trabalhos requeridos. É o que lembro daquele meu começo de mestrado. Estudávamos a República Velha. Esse era o grande tema do curso e, dentro daquilo, você tinha que achar um filão. Trabalhávamos com a industrialização na cidade e as moradas dos imigrantes. Eu pesquisava a iconografia por minha conta, porque adorava o tema e porque acreditava nessa ideia.
O tema do fotógrafo franco-brasileiro Hércules Florence já tinha aparecido?
Sim, ele atropelou a minha vida e aconteceu um pouco cedo demais. Eu tive que esperar muito tempo, 40 anos, quando o mundo começou a publicar. Acabou de sair a edição americana e inglesa, pela Taylor & Francis; pela L’Harmattan, de Paris em 2016, pela Cátedra, de Madri, em 2017; pela Lit Verlag, de Viena/Frankfurt, em 2015 e, também pelo Instituto Nacional de Antropologia e História, do México, ainda em 2004. Fiz conferências na Espanha, França, Estados Unidos, México, Argentina. O “desgraçado” (eu mesmo), resolveu continuar vivo, para ver essa volta do pião…
Você ainda estava na pós-graduação na PUC?
Sim, cursava duas disciplinas. Uma era de Filosofia, centrada na Fenomenologia de Husserl, ministrada pela professora Maria Fernanda Farinha Beirão. Os estudos da fenomenologia foram decisivos para as minhas reflexões sobre a fotografia; foi um curso que ampliou meus horizontes, muito aprendi com a Fernanda e com a Fenomenologia. Muitos anos depois do curso, ainda mantinha com ela uma grande amizade. Lamentavelmente, ela faleceu muito cedo.
A outra disciplina era de história, estudávamos a Primeira República, como já disse. Me propus a analisar imagens da Fanfulla, entre outras publicações da primeira década do século XX, os meninos, as crianças, filhos de imigrantes trabalhando com máquinas de tecelagem, sem proteção, perdendo os dedos, crianças de 8-9 anos. Bom, mas por que isso? Para mim, a fotografia é documento histórico. É documento. Bom, a minha professora ficou um pouco horrorizada com esse acento especial na iconografia… Eu queria continuar trabalhando também com essa metodologia para a minha dissertação, tendo São Paulo nesse período como tema de fundo, mas a partir da documentação, não apenas a linguagem escrita, mas também as imagens, a documentação visual.
A percepção da fotografia entendida como fonte histórica ainda era vista com desconfiança, afinal, as imagens sempre foram utilizadas como “ilustrações” dos textos. Essa era a mentalidade, um retrato do tempo em relação às questões da imagem. Percebi que não tinha muito espaço para seguir com a iconografia histórica e decidi desenvolver meu projeto na Escola de Sociologia e Política. Nesse momento, as discussões estavam fervilhando na minha cabeça e uma mulher surpreendente, inteligente, dinâmica, chamada Waldisa Rússio me convidou para ministrar cursos, em nível de pós-graduação, de Museologia.
O mundo dá voltas. Depois, fui participar da banca da Waldisa de doutorado. Para o curso de Museologia, ela convidou também o Fábio Magalhães. Marcelo Mattos Araújo, que hoje preside o Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), foi meu aluno. Toda uma geração de museólogos passou por esse curso: Cristina Bruno e outros foram todos meus alunos. Eu puxava as “oreia” deles [risos]. Ministrava uma disciplina chamada “Pesquisa em museus, arquivos e bibliotecas”, e “Pesquisa iconográfica e análise de informações”. Por conta disso, publiquei um opúsculo: A fotografia como fonte histórica: introdução à pesquisa e interpretação das imagens do passado. Estudava dia e noite Teoria da História, para ver se alguém mencionava algo sobre o papel da imagem na pesquisa e reflexão histórica… Era muito raro.
Aí, eu fiz amizade com o professor José Honório Rodrigues, um grande carioca, intelectual maior. Foi um amigo do coração. Um dia, eu estive na casa dele, morava nas Laranjeiras. Era um apartamento amplo, mais parecia uma enorme biblioteca. Fui várias vezes visitá-lo quando ia ao Rio. Nós conversávamos, eu falava sobre iconografia e ele apreciava. Foi uma das primeiras pessoas a também se importar com a iconografia na História. Uma vez, fui visitá-lo e a esposa me recebeu. Mal eu entrei, me deu uma bronca: “Você vai escrever isso do José Honório?! Como é que você escreve um negócio desses?!”. E não me deixava responder. E eu sem entender o que estava acontecendo. “Mas fazer uma crítica desse tipo?!”. E eu continuava sem entender o que estava acontecendo. Ele falou: “Não, não… Você está pensando que é o Boris Fausto, esse é o Boris Kossoy!”. [risos] Eu levei uma baita bronca por causa do Boris Fausto… Ela ficou sem jeito e tal. Essa é uma história boa. E ele me prezava muito, gostava dos meus trabalhos.
Bem, voltando, o ano era 1978 ou 1979… Minhas preocupações teóricas acabaram resultando neste opúsculo, no qual comecei a sistematizar conceitos e propor aplicações de métodos de análise da fotografia como fonte e como objeto de investigação em si mesma. Já tinha começado isso no meu doutorado, em que propunha refletir sobre a imagem fotográfica, suas pistas, e como a fotografia também nos despista. Porque a fotografia, afinal, é aparência, e aparência e ficção se confundem numa eterna ambiguidade. Comecei a me preocupar mais com a problemática da representação e da construção documental da ficção, no segundo livro teórico: Realidades e ficções na trama fotográfica, resultado das reflexões que se seguiram.
O primeiro Fotografia & História foi publicado originalmente em 1989 pela editora Ática, para a série Princípios.
Sim, a primeira edição pela Ática, e as demais pela Atêlie Editorial. Modéstia à parte, está entrando na sexta edição. Para um livro de academia, não está mal.
Seu mestrado havia sido sobre o fotógrafo Militão Augusto de Azevedo.
Sim, depois todo mundo ficou especialista em Militão… A ideia era trazer à luz maiores da-dos sobre essa figura única que era o carioca Militão Augusto de Azevedo, ex-ator de teatro, que se interessara pela fotografia como profissão e decidira atuar em São Paulo, ainda um burgo de estudantes, nas palavras do historiador Ernani Silva Bruno. Militão é, a um só tempo, o fotógrafo, mas também, o diretor de teatro que recebia em seu estúdio — ou palco — os personagens de diferentes classes representando seus papéis sociais. Retratos sem preconceitos é o que vemos em sua extensa obra desenvolvida por mais de duas décadas. De outra parte, pretendia destacar a importância de sua obra de registros da cidade como instrumento metodológico para a recuperação da cena urbana paulistana. Através de fotos tomadas dos mesmos ângulos de uma série de logradouros, em 1862 e 1887, Militão realizou um documento de inequívoca importância para o estudo das modificações urbanas e sociais ocorridas naquele intervalo. O álbum comparativo de Militão constitui-se em projeto sem precedentes na fotografia brasileira do século XIX. Já no meu doutorado, “Elementos para o estudo da fotografia no Brasil no século XIX”, o projeto foi muito mais abrangente, pois abarcava as formas da irradiação da fotografia no Brasil a partir de seus inícios e, ao longo do século XIX, tema que foi analisado em conexão com o contexto socioeconômico e a estrutura urbana das diferentes regiões do país. Independentemente da investigação e reflexão histórica nesse trabalho, continuei aprofundando as questões teóricas que resultaram na publicação em separado, mencionada antes.
Parece muito claro como, 30 ou 40 anos depois, você inaugurou um modo de pesquisar, um campo de estudos, seja na História, seja na Comunicação, seja na própria Museologia. Mas naquele período era tudo muito novo, como você mesmo destaca.
Eu tive “problemas” com a minha fotografia, que ninguém entendia… Toda aquela fantasia da juventude, dos quadrinhos e dos romances de mistério… Depois, com Conan Doyle, Edgar Allan Poe etc… Depois, passando por Cortázar, Márquez, Borges, Bioy Casares e o caminho do realismo fantástico, que entrou nas minhas veias. Minha fotografia seguiu por essa trilha: o maestro regendo no cemitério e toda a questão política que vivíamos no momento estava lá. E os manequins despedaçados no lixo? Que são as fotografias que o MoMA gostou. Eu estava fazendo uma denúncia, de uma forma simbólica. Acontece que a imagem é aquilo que ela mostra, é a aparência. E se a mentalidade e a cultura visual das pessoas apenas estacionam na imagem e não passam dela, você não está mostrando nada para ninguém. Os fotógrafos eram os que menos entendiam. E perguntavam: “Por que você faz isso?”.
E você tinha contato, por exemplo, com fotógrafos como Thomaz Farkas e Jean Manzon?
Tinha excelente contato com eles, assim como com German Lorca, Sergio Jorge, Armando Rosário, Georges Racz, Eduardo Castanho, Hans Gunter Flieg, entre muitos outros. Diante dessas pessoas, meu trabalho aparecia e teve muita divulgação. Eu mencionava antes a curio-sidade de colegas fotógrafos, em especial os que eram unicamente vinculados ao trabalho profissional, pouco preocupados com uma fotografia pensada, de expressão pessoal. “Mas por que você faz isso? Isso é montado!”. Ponto. Outra dificuldade eram os acadêmicos, que questionavam o emprego da imagem, da iconografia para estudar a história. Então, dos dois lados aconteceram coisas assim, curiosas, reflexo daquele momento ainda distante de um debate acerca da fotografia como meio de conhecimento e forma de expressão artística, independentemente de seu uso em aplicações utilitárias.
Finalmente, a questão da imagem no museu. Creio que transmiti esse modo de pensar a imagem fotográfica para as primeiras turmas dos alunos de Museologia, em 1978 e 1979. A gente tinha excelentes discussões. Museografia e museologia sempre me interessaram de-mais. O curso era dado no MASP e o vínculo acadêmico era com a Escola de Sociologia e Política. Em 1980, eu fui convidado para o MIS.
Mas você já estava no Conselho do Museu da Imagem e do Som, não é?
Eu fazia parte do conselho de orientação do MIS. Foi concomitante com o doutorado. Eu fui chamado, na época, pelo secretário de Estado da Cultura, Max Feffer. Foi ele ou o Mindlin que criaram as comissões das diferentes áreas de artes e cultura para a Secretaria. Ele me convidou para presidir a Comissão de Fotografia e Artes Aplicadas da Secretaria da Cultura. Eu achei que era um desafio motivador e, ao mesmo tempo, levei um susto diante da responsabilidade. Fizeram parte: Ricardo Ohtake, arquiteto e designer que eu convidei, e depois também dirigiu o MIS e que, mais tarde, foi Secretário de Estado da Cultura e, desde muitos anos, presidente do Instituto Tomie Ohtake; Júlio Katinsky, da USP, também arquiteto e professor; Eduardo Castanho, excelente fotógrafo, que foi meu aluno — e uma das minhas melhores crias — na Faculdade de Comunicação Anhembi.
A ligação com o magistério começou bem cedo para mim: em 1972, dei início a essa carreira, justamente na Faculdade de Comunicação Social Anhembi. Em 1978, fui para a Museologia, onde ministrei cursos durante dois anos. Um pouco antes, eu já tinha tido ligação com a área dos museus, porque o Prof. Bardi tinha me convidado, em 1976, para ser o diretor do Departamento de Fotografia do Masp, onde fiquei até 1978. Então, foi essa corrente de engates.
Entrevista completa disponível aqui